UNIFESSPA
Resumo: O presente trabalho apresenta como discussão central o tema variação linguística no ensino de língua portuguesa, tecendo reflexões sobre as propostas contidas na Base Nacional Comum Curricular e os desafios dos professores de língua em desenvolver um trabalho que atenda os postulados deste documento. Esse estudo foi realizado à luz dos estudos de Bakhtin (2011); Bortoni-Ricardo (2004), Antunes (2003); Labov (2008); Bagno (2007); Geraldi (1997); Castillo (2000), Mollica (1992). A metodologia aqui utilizada centra-se na pesquisa bibliográfica de base qualitativa. O corpus consiste na BNCC e os estudos acadêmicos sobre o tema pesquisado. De fato, após os apontamentos realizados, verificou-se que a BNCC, em relação ao ensino de língua portuguesa, porém ficou evidente a necessidade de os órgãos educacionais garantirem aos professores de língua portuguesa cursos de aperfeiçoamento nessa direção, com o fito de relacionar o objeto de conhecimento Variação Linguística a atividades de leitura e escrita, por exemplo.
Palavras-chave: Língua Portuguesa. BNCC. Formação docente. Variação linguística.
Introdução
É de comum acordo que a natureza da linguagem é social e, dessa forma, a língua é dinâmico quanto ao uso, por essa razão é suscetível a variações e a mudanças, por conta disso esta não pode ser entendida como um todo homogêneo. De fato, é esse fato social ligado à história, à cultura e à espacialização, tanto do ponto de vista sincrônico quanto diacrônico, que garante a existência dessa gama de variedades dialetais na Língua Portuguesa, no Brasil. Entende-se que, a partir dessa premissa, essa visão de língua polissistêmica (BAGNO, 2012. P39) parece ser contemplada nos documentos oficiais da educação brasileira desde 1997, quando o Ministério da Educação publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais, como uma tentativa de ressignificar o ensino de língua portuguesa no país.
Somente a partir desse desdobramento histórico, no que concerne à inovação do currículo de língua portuguesa, podemos entender a escola como uma instituição social que promove reflexões sobre o caráter dinâmico da língua, bem como um espaço que desenvolva atividades que possibilitem o contato do aluno com as variedades linguísticas, no sentido de expandir a competência comunicativa deste.
Assim, partindo desse cenário otimista na redefinição do currículo coerente, um de nossos intuitos é entender como o professor de língua desenvolve as atividades de português à luz das contribuições da Sociolinguística, na interface do ensino, a partir das diretrizes presentes na Base Nacional Comum Curricular, de modo a considerar, sobretudo o lugar de fala dos falantes em seus vários locus geográficos.
Para tanto, como já dissemos nosso artigo objetiva estabelecer reflexões sobre os desafios da formação docente após a chegada das contribuições da Sociolinguísticas para o ensino de língua portuguesa já na BNCC que traz a variação linguística como objeto de conhecimento, articulado à análise linguística no ensino fundamental.
A partir da descrição e da análise das habilidades voltadas ao ensino da variação linguística, enumeradas na Base, pretendemos, de forma específica, a partir do que está apresentado, (a) verificar em que medida essa proposta de currículo para o ensino de língua portuguesa chegou a prática do professor em sala de aula, (b) identificar se as atividades propositivas pelo professor ajudam os alunos a entenderem a variação linguística de forma que a legitime como parte integrada à nossa identidade nacional.
Para realizar essas duas tarefas, tomamos como corpus da pesquisa a versão homologada da BNCC, a parte específica voltada ao componente curricular língua portuguesa no ensino fundamental. O trabalho se fundamenta à luz dos estudos da Sociolinguística, com base nos seguintes pesquisadores: Labov (2008), Tarallo (2005), Bortoni-Ricardo (2005). Bagno (2012), entre outros.
Além desta introdução, três partes organizam este artigo: uma reflexão sobre as contribuições da Sociolinguística Variacionista e os desafios de implementação dessa teoria para formação docente; a segunda, uma seção metodológica que propõe uma contextualização do documento a partir da descrição e da base legal; e a última, a análise dos excertos do presente documento quanto aos propósitos já elencados.
Um panorama geral sobre a Sociolinguística Variacionista: constituição em ciência
O objetivo desta seção é apresentar uma retrospectiva da Sociolinguística como ciência, enfocando a corrente variacionista, sua gênese e desenvolvimento, apresentar um levantamento das contribuições da sociolinguística, encerrando com percurso sobre o ensino da língua portuguesa, a fim de destacar o papel que desempenhou para o ensino de língua.
A Sociolinguística é uma área de estudo e investigação do fenômeno linguístico em seu contexto social e cultural, em situações reais de uso da comunidade linguística. Como ciência tendo um campo específico de estudo se desenvolveu, mais precisamente, a partir da década de 1960, que representa o marco do início dos estudos mais sistemáticos na área, por meio de Willian Labov. Assim, “foi, portanto, Labov quem, mais veementemente, voltou a insistir na relação entre língua e sociedade e na possibilidade, virtual e real, de se sistematizar a variação existente e própria da língua falada” (TARALLO, 2007, p.7).
Em outras palavras, o autor propõe a consolidação de uma concepção de linguagem essencialmente social, correlacionando, sistematicamente, a língua à história social dos falantes. O objeto de seu estudo é a diversidade linguística, passível de ser observada, descrita e analisada em seu contexto social, conforme afirmam Mollica e Braga (2003, p. 47) “À sociolinguística interessa a importância social da linguagem, desde pequenos grupos socioculturais a grandes comunidades.”.
Conhecida como A Teoria da Variação, Sociolinguística Variacionista, ou ainda, Teoria Laboviana, rejeita a ideia da homogeneidade linguística, partindo do pressuposto de que a heterogeneidade é inerente ao sistema linguístico, focando na descrição estatística de fenômenos variáveis, a fim de permitir observar a interferência de fatores linguísticos e não linguísticos na realização de variantes.
Nesse modelo, a variação linguística é uma condição do sistema linguístico, portanto passível de ser descrita e analisada sistematicamente, já que as variantes da língua não são aleatórias, mas possuem regularidade e estão sempre relacionadas a fatores sociais. Tal modelo teórico-metodológico permite a compreensão das estruturas variantes existentes na língua e a observação dos mecanismos que regem as variações e as mudanças na língua, considerando a língua em seu contexto social e cultural, uma vez que as explicações para os fenômenos variáveis provêm de fatores internos ao sistema linguísticos e de fatores externos a ele.
Apontamentos metodológicos
Nesta seção, vamos conduzir o leitor quanto à descrição do nosso corpus da pesquisa a BNCC. Apresentaremos, de modo compacto, nestas duas subseções, a descrição do documento em estudo, além de sua base na legislação educacional; no segundo momento, caracterizamos o tipo de pesquisa.
Descrição do corpus
A BNCC é um documento que define os direitos de aprendizagens de todos os alunos da rede educacional do país. De fato, a proposição feita pela Base é bastante importante no processo de ensino aprendizagem, pois pela primeira vez no Brasil, há um documento que oriente os conhecimentos e habilidades que todos os estudantes devem ter ao longo da vida escolar.
Quanto ao componente curricular Língua portuguesa, percebemos que as propostas apresentadas pelo documento caminham na direção dos estudos já propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, agora com o foco no ensino de gramática a partir do estudo dos gêneros e a inserção dos textos multimodais. Isso porque, na Base Nacional o objetivo da disciplina é formar um aluno para que saiba se manifestar de forma crítica e criativa com os diversos usos das linguagens (BRASIL, 2017). Com direcionamento restrito à educação escolar, esse documento surge da exigência estabelecida pela Constituição Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.934/96), pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) e pelo Programa Nacional de Educação (2014).
Caracterização da pesquisa
Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, de base interpretativa, do tipo documental. Para Severino (2007, p.122-123), o tipo de pesquisa documental possui “[...] como fonte documentos no sentido mais amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas sobretudo de outros tipos de documentos, tais como: jornais, fotos, documentos legais, filmes”. Além disso, segundo Bortoni-Ricardo (2008, p.34), a pesquisa qualitativa “[...] procura entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto”; assume-se, assim, um caráter de interpretação de um fenômeno com enfoque nos seus entornos. Dessa forma, a BNCC é um documento legal legitimado pelo Ministério da Educação, logo, um texto institucionalizado. Daí se explica o fato de o corpus escolhido ser de natureza documental.
A variação linguística na BNCC: uma questão política para o ensino de língua portuguesa no Brasil
Essa seção se constitui de forma mais analítica em razão dos nossos objetivos e do nosso objeto de reflexão, o ensino de variação linguística na BNCC do ensino fundamental, bem como os desafios da formação docente dentro desse contexto. Para isso, usaremos dois excertos do corpus escolhido para este estudo como ponto de partida para uma análise, aliada ao domínio teórico exposto na seção anterior.
Inicialmente, cabe-nos apontar, no que diz respeito ao componente curricular língua portuguesa, que a proposta que se apresenta para o ensino fundamental na Base é a da não centralidade do ensino de gramática normativa na escola; em contraponto a isso, mantém-se o desafio do ensino de escrita e leitura, a partir da aplicação de atividades capazes de desenvolver as habilidades leitoras e escritoras desse alunado. Essa percepção da língua a partir dos letramentos figura uma tentativa de fazer com que o aluno tenha competências e habilidades para refletir sobre o uso linguístico para além do viés normativo, tornando-o, dessa forma, um sujeito crítico e reflexivo em sociedade.
Nessa discussão, entendemos que o deslocamento da tradição gramatical prescritiva como aspecto nevrálgico, preocupada apenas em homogeneizar as normas do “falar e escrever correto”, deu lugar a uma notável valorização na experiência do aluno, a partir das práticas sociais que o cercam, em distintas nuances, como a escrita e a oralidade, por exemplo. Sob essa proposição de ensino de português, a oralidade ganha destaque como um eixo de ensino produtivo, com o objetivo de que os alunos analisem a força expressiva da comunicação oral presente nos mais diversos gêneros, suportes e eventos do cotidiano e investiguem como se constitui a variação da língua.
Percebemos, nesse caso, a possibilidade de reconhecimento das formas específicas de organização tanto da escrita quanto da oralidade, em relação aos seus efeitos de sentido no contexto social. Nessa mesma linha de raciocínio, em função de assegurar o tratamento com “as várias linguagens” dá-nos indícios de que o trabalho com variação linguística terá lugar de destaque nesse documento normativo. Ainda sobre o tópico oralidade, no excerto 1, a BNCC (BRASIL, 2017, p. 79-80) agrupa as práticas de linguagem que se realizam em práticas sociais orais. Nessa percepção, a atenção destinada a essas práticas orais compreende as habilidades abaixo descritas.
Quadro 1 – Excerto 1 da BNCC
|
Eixo da Oralidade
|
Algumas proposições práticas
|
|
Consideração
e reflexão sobre as condições de
produção dos textos orais que regem a circulação de diferentes gêneros
nas diferentes mídias e campos de atividade humana
|
• Refletir
sobre diferentes contextos e situações
sociais em que se produzem textos orais e sobre as diferenças em termos formais, estilísticos e linguísticos que
esses contextos determinam, incluindo-se aí a multimodalidade e a
multissemiose.
• Conhecer e refletir sobre as tradições
orais e seus gêneros, considerando-se as práticas sociais em que tais textos
surgem e se perpetuam, bem como os sentidos que geram.
|
Em uma
turma de 7º ano/9, por exemplo, podemos partir do estudo do Conto de Humor e
a dramatização desse texto, mais tarde. As atividades de compreensão e
produção de texto devem levar em consideração as condições de produção,
explorar esses pontos. A exemplo, a estruturação da fala de personagens tipos
que pertencem a diferentes lugares.
Além
disso, a produção do conto, em uma das etapas, pode partir da escuta de
histórias engraçadas contadas por pessoas mais velhas, os avós, por exemplo.
Explorando os sentidos gerados pela escolha linguística feita pelo falante,
da mesma forma perceber como essas marcas se apresentam no texto escrito
(conto) e, mais tarde, na encenação deste.
|
|
Relação
entre fala e escrita
|
• Estabelecer relação entre fala e escrita,
levando-se em conta o modo como as duas modalidades
se articulam em diferentes gêneros e práticas de linguagem (como jornal
de TV, programa de rádio, apresentação de seminário, mensagem instantânea
etc.), as semelhanças e as diferenças entre
modos de falar e de registrar o escrito e os aspectos sociodiscursivos,
composicionais e linguísticos de cada modalidade sempre relacionados com os
gêneros em questão.
•
Oralizar o texto escrito, considerando-se as situações sociais em que tal tipo de atividade acontece, seus
elementos paralinguísticos e cinésicos, dentre outros.
• Refletir sobre as variedades linguísticas,
adequando sua produção a esse contexto.
|
Aqui,
podemos trabalhar com a turma de 9º ano/9 o gênero jornalístico notícia e o
jornal falado. É importante trabalhar com esses dois gêneros juntos, pois se
exploram de forma interligada, tanto a apropriação da competência escrita
quanto à falada. Pode-se explorar a forma como o falante vai assumir na
elaboração de uma notícia, bem como na composição da fala de apresentador.
Além disso, poderia explorar como seria a percepção de texto de donas de
casa, a exemplo, ao ouvirem e verem esse conteúdo jornalístico.
De
modo que se observe para além da mera estrutura típica desses textos, mas sim
os usos da língua feitos pelo falante quem cada modalidade, considerando
ainda o contexto de produção de cada texto.
|
Fonte: BRASIL, 2017.
Diante ao quadro de habilidades proposto pela BNCC, selecionamos apenas aquelas que dizem respeito ao tratamento da variação linguística, pois tratam das “condições de produção dos textos orais” e a “relação ente fala e escrita”. Escolhemos, com base em nossos grifos, promover uma discussão sobre como a variação linguística é tratada nessa parte comum do currículo. Dessa maneira, entendemos que essas habilidades caminham em direção a uma aprendizagem que valoriza “as situações sociais de comunicação” presentes tanto em eventos da oralidade, quanto em atividades de produção de textos.
A relação existente entre fala e escrita está diretamente ligada a habilidades distintas, a saber: (1) estabelecer relação entre fala e escrita, (2) refletir sobre as variedades linguísticas, (3) oralizar o texto escrito. A direção geral desse conjunto de proposições é garantir que o aluno perceba as diferenças entre os gêneros da oralidade e da escrita de maneira que eles podem coexistir tranquilamente. Esse trabalho de comparar, bem como defende Marcuschi (2008, p. 191), não deve ser minimalista, mas capaz de assegurar o entendimento de que tais modalidades são parte do mesmo sistema da língua, que “[...] podem ter peculiaridades com diferenças bem acentuadas.”. Nesse mesmo pensar, notamos que o trabalho com variação linguística, por meio da oralidade, debruça-se à superação do preconceito, ao combate dos estigmas, uma vez que o discente, a partir de atividades de retextualização, de modo a adequar-se às diferentes situações sociais.
Na sequência, transcrevemos da BNCC (BRASIL, 2017, p. 160-161) outro excerto, este faz ao ensino de Língua Portuguesa do 6º ao 9º ano.
|
PRÁTICAS DE LINGUAGEM
|
OBJETOS DE CONHECIMENTO
|
HABILIDADES
|
|
TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
|
|
Análise
linguística
|
Variação
linguística
|
(EF69LP55)
Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de
preconceito linguístico. (EF69LP56)
Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em
situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada
|
|
EXERCÍCIO PROPOSTO A UMA TURMA DE 9º ANO/9
PARA GARANTIR A HABILIDADE EF69LP55
|
QUESTÃO 01-Leia o texto a seguir e responda o item a seguir. "Todas as variedades linguísticas são estruturadas, e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação."
Celso Cunha. Nova gramática do português contemporâneo. Adaptado.
A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é:
a) o conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. b) sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística, sob pena de empobrecimento do léxico. c) a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes. d) A língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial a um sistema linguístico. |
|
REFLEXÃO
DO ITEM
|
|
Após a leitura do texto, o professor deve refletir junto ao aluno que as variedades linguísticas atendem diversas necessidades dos falantes, da mesma forma que a norma padrão (variedade de maior prestígio) está diretamente ligada uma estrutura social a qual o falante está inserido. Esse valor normativo se impõe em detrimento as outras variedades que assumem personificação negativa. O aluno precisa entender que demais variedades utilizadas devem ser vistas como parte de nossa identidade e não como um mecanismo de segregação social. A cada alternativa o professor pode explorar ainda mais esse tópico e reiterar a letra A, como gabarito, já que, embora as variedades linguísticas sejam consideradas importantes do ponto de vista comunicacional, a língua padrão ainda alcança maior prestígio social.
|
Ao propor o uso reflexivo e consciente de regras e normas da variedade padrão da língua em situações de escrita e fala nas quais deve ser usada, a BNCC estabelece que ao professor cabe a orientação dos alunos quanto às adequações dos usos linguísticos mediante as situações sociocomunicativas. Até aqui, entendemos que essa proposta retoma claramente os níveis extralinguísticos de variação citados por Labov (2008), uma vez que o uso das distintas formas linguísticas pode variar de acordo com os papéis sociais que o aluno desempenha (variação diafásica). Dessa forma, o docente deve orientar o aluno quanto à importância do emissor/receptor do texto no que compete ao uso mais formal ou menos formal da língua.
Dessa maneira, durante todo o nível fundamental, a ideia é que o ensino desse objeto de conhecimento, visto no eixo Análise Linguística/semiótica, não negue o sistema de normas e de regras da norma-padrão, porém fomente, a partir dele, um olhar crítico e reflexivo sobre a tentativa de homogeneização linguística no Brasil. É fato que esse trabalho, se consolida tal como se projeta, implicará o desenvolvimento de estratégias de ensino para que os alunos tomem nota da riqueza que são os sotaques, os usos orais e, a partir disso, percebam que as variedades linguísticas podem ser vetores de ridicularização, repressão, discriminação e promoção do outro. Portanto, fica claro que o uso consciente resulta na inserção desses alunos nas múltiplas práticas de letramentos nos diversos campos de atuação social.
Considerações finais
O presente trabalho teve como objetivo central estabelecer reflexões sobre como a BNCC trata o objeto de conhecimento- variação linguística, articulado à análise linguística/semiótica, no ensino fundamental II. À guisa dessas discussões, notamos que essa abordagem é vista de forma específica nas práticas de linguagens e do trabalho que se propõe com os eixos da Análise Linguística e de Oralidade; muito embora, de fato, tal objeto de conhecimento perpassa todos os eixos. Apesar de que não marcadamente correlacionadas a outros eixos, as habilidades elencadas para esse objeto podem estar ligadas às atividades de escrita e leitura, por exemplo.
É papel, portanto, do professor e da escola a percepção crítica de que o trabalho com a variação não pode ser exclusivo a um capítulo do livro didático, pois assim estaremos fadados a repetir os velhos problemas referentes ao ensino de língua portuguesa. Vamos partir do pressuposto de que a BNCC exige dos professores de LP uma leitura crítica e reflexiva, com o fito de que estes sejam capazes de assegurar o redimensionamento do referido objeto de conhecimento em sala de aula, com vistas a melhorar o ensino no Brasil. Para as instituições de formação de professores, compete, agora, apontar reflexões sobre possíveis ações docentes que viabilizem a materialização e operacionalização das competências e habilidades da Base.
Dessa forma, para desenvolver um processo de reflexão e conscientização do tratamento da variação linguística nos diversos usos da Língua, escritos ou orais, dentro e fora da sala de aula, é necessário ter em mente que isso não ocorre de um dia para o outro, que não pode ser visto como se fosse fruto de uma simples adesão por parte dos docentes, mas de um processo contínuo e de trabalho e reflexão sobre os aspectos formais da língua, bem como de uma política de formação de professores planejada desde sua fase inicial até os estágios mais avançados da formação continuada, que objetive subsidiar as práticas de ensino da Língua Portuguesa numa visão plural do conhecimento científico.
REFERÊNCIAS
BAGNO, Marcos. Preconceito Linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 199.
________ A inevitável travessia: da prescrição gramatical à educação lingüística. In: BAGNO, Marcos; STUBBS, Michael; GAGNÉ, Gilles. Língua materna: letramento, variação & ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2002.
BORTONI-RICARDO. S. M. Educação em Língua Materna: A Sociolingüística na Sala de Aula. São Paulo: Parábola, 2004.
________. Nós cheguemu na escola, e agora? sociolingüística na sala de aula. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.
_________. O professor pesquisador: introdução à pesquisa qualitativa. São Paulo: Parábola, 2008.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: MEC/SEB,2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 02 de agosto 2020.
BRASIL. Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/d/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pdf. Acesso em: 31 de julho de 2020.
CASTILHO, A . T. de. A língua falada no ensino de português. São Paulo: Contexto, 2000.
GREGOLIN, Maria do Rosário. O que quer, o que pode esta língua? Teorias lingüísticas, ensino de língua e relevância social. In: FARACO, Carlos Alberto (et al); CORREIA, Dejane Antonnuci (Org.). A relevância social da lingüística: linguagem teoria e ensino. São Paulo: Parábola Editorial; Ponta Grossa, PR: UEPG, 2007.
ILARE, Rodolfo; BASSO, Renato. O português da gente: a gente que estudamos a língua que falamos. São Paulo: Contexto, 2006.
LABOV, William. Modelos Sociolingüísticos. Madrid: ediciones Cátedra. 1983. Tradución de José Miguel Herreras.
MARTELOTTA, M. E. Mudança Linguística: uma abordagem baseada no uso. São Paulo: Cortez, 2011.
MOLLICA, M. Cecília (org.). Introdução à Sociolingüística Variacionista. Cadernos didáticos. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ. 1992.
_____. “Como o brasileiro fala, percebe e avalia alguns padrões lingüísticos”. Rio de Janeiro: Ed. Flores Verbais, p. 121-129, 1995.
PRETI, Dino. Estudos de língua oral e escrita. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.
POSSENTI, Sírio; ILARI, Rodolfo. Ensino de Língua e Gramática: alterar conteúdos ou alterar a imagem do professor?. In: KIRST, Martha; CLEMENTE, Elvo (Orgs.). Lingüística aplicada ao ensino de português. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.
TARALLO, F. A pesquisa sociolinguística. 5º ed. São Paulo. Ática, 1997.

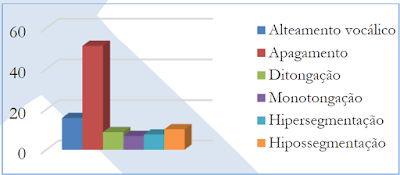
Comentários
Postar um comentário